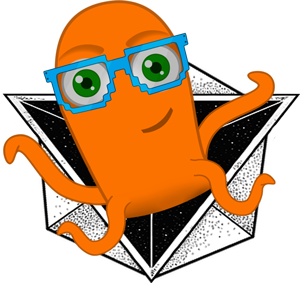Nota
Poucos exemplos no cinema atual são melhores para ilustrar como a mesma história pode ser contada de maneiras (e para efeitos) diferentes quanto O Estranho que Nós Amamos, segunda adaptação cinematográfica do livro de Thomas P. Cullinan, dirigida por Sofia Coppola.
A primeira versão, homônima, foi lançada em 1971 e dirigida por Don Siegel, com Clint Eastwood no papel principal (numa de suas colaborações finais com o diretor). Ambos os filmes – apesar de compartilharem a premissa e o esqueleto narrativo – são notavelmente distintos.

A trama se passa em meados da Guerra de Secessão e acompanha um soldado ianque que, após se ferir gravemente na perna esquerda, é encontrado por uma menina no meio da floresta e levado por ela até um internato feminino em território confederado. A ideia, originalmente, é que, assim que o soldado melhorar, ele seja entregue às autoridades. Mas sua presença acaba não apenas seduzindo as mulheres, mas também gerando intrigas com resultados trágicos.
A grande alteração estrutural feita por Sofia Coppola está no ponto de vista: se o filme de 1971 era narrado pela perspectiva do soldado interpretado por Clint Eastwood, na versão dela, as sete mulheres ganham o protagonismo, se comportando quase como um corpo homogêneo. Sim, há o destaque claro na diretora do internato, Nicole Kidman (excelente), na professora (Kirsten Dunst) e na mais saliente das jovens garotas (Elle Fanning). Mas existe uma energia feminina que vai desde a escolha de perspectiva até a maneira como a câmera integra essas mulheres ao espaço. Seus vestidos possuem tonalidades que as diferenciam psicologicamente e, ao mesmo tempo, são uniformemente suaves. Quando as sete estão no quadro, o plano ganha vitalidade pictórica e até um certo misticismo – quase como se elas fossem uma extensão daquele ambiente e vice-versa.

Ironicamente, o personagem vivido por Colin Farrell é quem acaba lucrando dramaticamente com isso. Não somente o seu John McBurney é uma presença muito mais passiva na maior parte da projeção, mas também um bocado ambígua e misteriosa (nunca é possível afirmar com certeza suas intenções). Especialmente durante a primeira metade, Farrell compõe meticulosamente esse processo de sedução que está no coração dessa história, examinando a dinâmica entre as mulheres e o que pode fazer para agradar cada uma. O efeito é curioso: ele é simultaneamente uma figura simpática e levemente insidiosa.
De quebra, a composição de McBurney acaba refletindo diretamente a natureza do filme como um todo: mais sútil, porém afiado; mais ambíguo, mas ainda mais corrosivo. Sofia Coppola é naturalmente uma cineasta de mão suave, técnicas visuais muito controladas e foco em pequenos gestos. No caso de O Estranho que Nós Amamos, seu segundo filme de época, a diretora adota um formalismo bastante econômico, criando uma encenação perfeitamente ancorada entre o naturalismo (a luz escassa e à base de velas, o realismo dos movimentos) e uma certa teatralização (o deslocamento muito bem marcado dos atores em cena, a cadência de cada uma de suas ações). Ela também opta pela exclusão de alguns componentes potencialmente polêmicos contidos no filme de Don Siegel: a escravidão, a insinuação de pedofilia (com direito a beijo na boca), o passado incestuoso da Miss Martha, entre outras pequenas aparições de personagens.

E, se essas escolhas enxugam essa versão com relação tanto à obra original quanto ao filme de 1971, por outro lado, estabelecem uma atmosfera gótica muito particular, em que a sugestão do suspense está menos em atitudes abruptas e mais na troca de olhares. E, ao abandonar o jogo explícito, Coppola se aproxima de um senso de terror (ainda que com muita timidez) mediado por uma trilha sonora discreta, às vezes ausente, às vezes quase imperceptível, mas que lá no plano final de O Estranho que Nós Amamos se revela fundamental para ilustrar a “delicadeza fantasmagórica” das mulheres: a aparência de suavidade que, quando necessário, pode se revelar sutilmente mordaz.