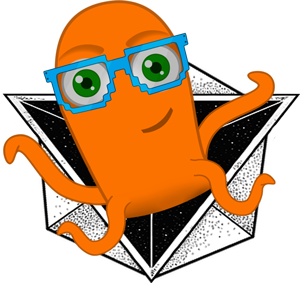Nota
O sonho de “ser alguém”. O sonho de ser ouvido. O sonho de ter uma carreira. O sonho da independência. Todos esses fatores configuram o famigerado “sonho americano”, expressão célebre entre os estadunidenses e que serve de base para o título do filme “Era Uma Vez um Sonho” (2020), baseado no livro de memórias de James David Vance.

Aqui, acompanhamos a trajetória de James, célebre escritor e capitalista de risco, e toda sua infância conturbada. Com pai ausente, uma mãe irresponsavelmente viciada e uma família caótica, o rapaz não tinha nenhuma perspectiva de vida, já que seu apoio era negligenciado – apenas seus avós lhe davam a atenção que deveria ter dos pais. Enquanto sonhava, logo era chamado à realidade embrutecida em que vivia. O seu destino já estava traçado: seguir o mesmo caminho irresponsável dos seus familiares. Um ciclo que parece não ter um fim.
Nesse contexto, Ron Howard intercala as diferentes fases do protagonista, como se fosse um paralelo, e realiza uma comparação velada entre ambos momentos. Tal artifício, embora cuidadoso e com um material apropriado, é prejudicado no decorrer da narrativa, justamente por causa do teor comparativo vazio das cenas, como se estivessem soltas gratuitamente. Exímio diretor, Howard parece não ter ciência de seus comandos com a cinebiografia de Vance, focando em trechos e enquadramentos que em nada acrescentam à trama. Afinal, o que há de relevante no foco excessivo dos móveis da casa, por exemplo?

Dito isso, os problemas ficam cada vez mais notórios à medida que a história se desenrola – e os transtornos daquele arranjo familiar aumentam. Ou melhor, não se desenrola. A impressão que fica, infelizmente, é que o filme não sai do mesmo lugar, apesar das mudanças bruscas de fases. Em todo momento, o roteiro aparenta destacar os surtos da família e não se sabe a real intenção de Howard. Estaria o cineasta criticando ou glorificando comportamentos abusivos e destrutivos? Ainda que pareça fazer uma crítica, o diretor não se aprofunda no embasamento e prejudica a conexão com o público, distorcendo o objetivo.
Além disso, o tom meritocrático soa artificial e se distancia da naturalidade. É fato que muitas famílias republicanas dos Estados Unidos se vangloriam da meritocracia – como o próprio James Vance, mas a mensagem final se distancia da crítica e força uma superação que, embora já vista, peca pelo uso excessivo do clichê. Nos primeiros vinte minutos da obra, já se pode perceber esse tom e o modo raso com o qual os roteiristas tratam a história, como se o capitalismo fosse a salvação de tudo.

O único ponto positivo da obra fica a cargo de Glenn Close e Amy Adams. Mesmo não totalmente valorizadas pela direção e pelo enredo medianos, as duas brilhantes atrizes tentam ao máximo defender suas personagens – Bonnie (a carismática e desbocada avó) e Beverly (a mãe problemática), respectivamente – e roubam a cena. Enquanto os dois atores sem carisma que interpretam James nas duas fases – Owen Azstalos e Gabriel Basso – recebem destaque acima do esperado, suas colegas de cena são prejudicadas em certos trechos, mas ainda conseguem brilhar e constroem dois tipos propositalmente caricatos. Grandiosas intérpretes, sem sombra de dúvidas.
Fraco, apático e raso, “Era Uma Vez um Sonho” decepciona com seu material subaproveitado e as chances de um grande sucesso são minadas, infelizmente, já nas suas sequências iniciais. A duração um pouco excessiva também compromete, uma vez que boa parte da obra pode ser retirada com uma edição detalhista. No fim, acaba sendo mais uma boa oportunidade para apreciarmos os talentos gigantescos de Glenn Close e Amy Adams – e só.
Vinicius Frota
Apenas um rapaz latino-americano apaixonado por tudo que o mundo da arte - especialmente o cinema - propõe ao seu público.