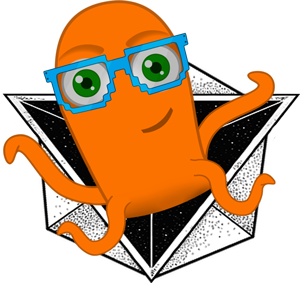Nota
“Nem todo mundo é ruim, mamãe. Nem tudo é pecado.”
Na adolescência, somos apresentados aos mais diversos sentimentos, ao passo que descobrimos a sexualidade e vivemos outras problemáticas. Apesar de comum à idade, tudo isso ainda causa medo e insegurança, já que muitos não sabem lidar com tanta mudança física e mental e, principalmente, com a interferência alheia. O temor pelo novo e o apego a uma zona de conforto afetam mentes, enquanto o conservadorismo julga e reprime cada vez mais profundamente os comportamentos e desejos.

Dentro dessa perspectiva, o longa “Carrie” (1976), baseado no livro de Stephen King, surge como a personificação desse dilema, através da história de Carrie White. Vítima do fanatismo religioso e presa a um relacionamento abusivo com a mãe, a jovem se vê cada vez mais reprimida física e emocionalmente, independentemente de suas atitudes e suas escolhas. Mesmo que não seja fanática como sua matriarca e tente socializar com os colegas, a adolescente alimenta os preceitos rígidos com os quais foi criada, sem questioná-los e conhecer seus próprios anseios e suas vontades.
Desde o princípio, tal comportamento reprimido se mostra nítido. Afinal, vemos uma frágil Carrie aterrorizada com a primeira menstruação, depois de ridicularizada pelas colegas no vestiário. Ali, é a representação fidedigna de um linchamento moral, como se aquela condição da jovem a tornasse “suja” e “profana” e pronta para o julgamento de todos à sua volta. Além disso, vemos o primeiro indício dos poderes mediúnicos de Carrie, como se a menstruação fosse o símbolo da liberdade e o primeiro passo para que a protagonista se desprenda da repressão que sofre em todos os ambientes – principalmente em casa – e descubra novos instintos e prazeres.
Nesse contexto, entra a figura sombria de Margaret White, a fanática mãe da protagonista. Amarga e adepta de vestimentas escuras, parece uma entidade: não importa onde a filha esteja, é onipresente. Controla excessivamente a personalidade de Carrie e sabe que há algo de “errado” nela. Ao mesmo tempo que aparenta proteger a herdeira, a condena e a agride – física ou verbalmente -, agindo como se a menina fosse um objeto facilmente manipulável e não fosse digna da “luz divina”. Nesse aspecto, é interessante como Brian de Palma constrói uma submissão entre mãe e filha, como se a última dependesse sempre da aprovação da primeira, essencialmente na cena em que a jovem confessa à mãe que se sente “impura” após menstruar e pede permissão para rezar. É o recorte obscuro de um cenário tóxico e repressor.

Dito isso, até que ponto a “luz divina” abre nossos olhos, sem nos cegar completamente? Esse é o questionamento que paira diversas vezes sob a trama, pois Margaret se torna o retrato da típica beata hipócrita (oi, Perpétua) que comete pecados enquanto aponta o erro do outro – ou o que julga ser um “erro” – e usa a fé para justificar seus atos, se achando a paladina da moralidade. Na verdade, sabe que, embora cega pela crença, é tão pecadora quanto as pessoas que ela julga, e projeta em Carrie uma imagem que finge seguir, idealizando uma persona que não existe e enxergando a própria filha como fruto do “pecado” da carne. Seria apenas ficção se não encontrássemos várias relações como a das duas na vida real, mascaradas por “boas intenções” e por uma bíblia abaixo do braço.
Quanto mais sofre represália da mãe e dos colegas, mais Carrie se fecha para tudo e todos – inclusive, para si mesma – e esconde todo esse tormento. Apesar de, aos poucos, tentar entender seu dom sobrenatural (telecinese, a capacidade de movimentar qualquer coisa apenas com a força da mente), ainda vive numa redoma que a faz se sentir culpada até de olhar nos olhos de outra pessoa, como se esse simples ato fosse “errado”. Dentro dessa ótica, a construção da personagem se mostra ainda mais complexa, caminhando entre um tipo introspectivo e uma bomba prestes a explodir. E essa bomba é fatal.
A partir do momento em que Carrie é convidada pelo garoto mais popular da escola – Tommy Ross – para o baile (sem desconfiar que tudo não passa de um pedido de Sue Snell, arrependida da humilhação que fez com a jovem, e da armação vexatória que Chris planeja), um resquício de esperança na menina ressurge. Afinal, Carrie almeja ser uma “garota comum” e o baile é o lugar ideal para que o seu sonho seja realizado. Tomada pelo fascínio e sem enxergar as intenções perversas que essa noite carrega, a jovem ignora os devaneios da mãe e sai à busca de seu maior desejo – amar e ser amada na mesma proporção, como uma forma de ser aceita por todos.

Toda essa construção só se torna ainda mais possível graças à direção minuciosa de Brian de Palma. Detalhista, o cineasta consegue captar todas as nuances do livro de King e transforma o baile no momento mais assustador do filme, tal qual na obra literária. Aqui, vemos uma Carrie feliz com a coroação no baile e, em seguida, tomada por uma fúria colossal, depois de humilhada com um banho de sangue no palco. Muito mais do que isso, observamos o desabrochar de um sentimento explosivo, acumulado após anos de perseguição, que faz a protagonista cometer um verdadeiro massacre naquele local, expondo toda sua vingança e seus poderes telecinéticos. À medida que a sequência tensa se destrincha em cena, a maldição de Margaret – “Não vá, Carrie, eles vão rir de você” – ecoa intensamente tanto quanto o ódio no olhar de Carrie e os gritos das pessoas.
Além de ser o maior momento da narrativa, também é o grande trunfo da atuação de Sissy Spacek. Irretocável em cena e indicada ao Oscar de Melhor Atriz, Spacek constrói brilhantemente as camadas de Carrie, mostrando que nasceu para interpretá-la. Seu silêncio em alguns trechos é poderoso e podemos ver seus sentimentos complexos somente nos seus olhos, principalmente onde o texto não é necessário. Sentimos pena da personagem, enquanto temos medo de sua nova faceta. Sorrimos junto com ela quando a vemos feliz no palco, ao passo que sentimos a mesma revolta dela depois da humilhação e raiva de quem a humilhou. Um trabalho extremamente detalhista e impecável, digno de todo tipo de reconhecimento.
Não atrás de sua colega de cena, Piper Laurie – também nomeada ao Oscar – encarna perfeitamente a figura perversa de Margaret e assume um tom sombrio. Assim como Spacek, é impressionante sua facilidade em ir de uma aparente característica pacífica a um estado de selvageria total. Do silêncio aos berros, sua presença é potente e enriquece a tela, criando uma repulsa no espectador e um medo, uma vez que as expressões bizarras e o comportamento observador parecem ultrapassar a ficção e dialogar com seu público. Um grande papel nas mãos de uma brilhante atriz, que merecia levar o prêmio naquele ano.

Os outros pontos técnicos também são fabulosos. Desde o cenário claustrofóbico à trilha sonora tensa, tudo é devidamente aproveitado e repleto de simbologias notáveis. A casa de Carrie, por exemplo, reflete a repressão que a garota sofre e o fanatismo religioso de sua mãe, através de imagens excessivas de símbolos católicos – como a estátua de São Sebastião, flechado, que faz alusão ao desfecho trágico de mãe e filha – e a escuridão que toma a tela para si, construindo um ambiente amargo e capaz de distanciar a jovem da mais completa realidade com enquadramentos que chama a atenção. Um resultado extremamente satisfatório e agoniante.
Crítico, indigesto e envolvente, “Carrie” não só extrai todas as qualidades do livro, mas também cria um universo único, mostrando que o preconceito, o bullying e o fanatismo religioso são os piores vilões da narrativa, mesmo com a alta carga sobrenatural. Uma grande oportunidade para apreciar as presenças poderosas de Sissy Spacek e Piper Laurie, numa das maiores obras-primas do gênero que cumpre sua premissa com muita genialidade, sem sombra de dúvidas.
Vinicius Frota
Apenas um rapaz latino-americano apaixonado por tudo que o mundo da arte - especialmente o cinema - propõe ao seu público.