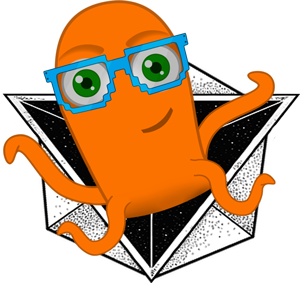Nota
Em um dado trecho da história do movimento negro, Fred Hampton, ativista líder do Partido dos Panteras Negras, vociferou que “um revolucionário pode até ser assassinado, mas sua revolução permanece viva”, em resposta aos brutais ataques que negros sofreram no sistema racista dos Estados Unidos. Dito isso, o cineasta Shaka King readaptou esse período no filme indicado ao Oscar “Judas e o Messias Negro” (2020), um grande exemplar sobre os impactos das ideologias e do racismo numa sociedade de opostos.

Desde o princípio, King não hesita em ter um cuidado com a apresentação dos personagens e com a realidade. Afinal, biografias sempre precisam de uma ótica mais detalhista, principalmente com relação à cronologia dos fatos e de sua veracidade. Nesse contexto, logo percebemos que muito além dos confrontos entre negros e brancos, há um conflito interno dentro do próprio movimento negro, especialmente pelo radicalismo de uns e o tom pacífico de outros. Aqui, o já citado Fred Hampton surge como a voz que equilibra os radicais com o pacifismo, como um “messias” bíblico – alusão, inclusive, ao título do filme. O personagem, sob um certo ponto de vista, pode até soar pacifista, mas seu lado rebelde sempre emerge diante de um desafio e de constantes ataques. Nesse contexto, o tal grito de desabafo, citado no parágrafo anterior, resume bem a narrativa de Hampton, como uma espécie de “premonição” do desfecho desse teor subversivo.
Do outro lado da moeda, temos a figura do “Judas”. Se a bíblia atribui a palavra a um traidor, isso não se destoa da narrativa de King, ainda que o teor religioso seja distante nesse ponto. Através de William O’Neal, vemos a personificação do judas e tudo que ele representa. Mais do que essa premissa, observamos o perfeito contraponto que O’Neal e Hampton fazem, essencialmente pelos seus comportamentos distintos. Se o segundo funciona como ponte de tudo, o primeiro escolhe um lado – mesmo que esse “lado” não seja o certo sob os olhos de alguns. Afinal, William não passa de um irresponsável infiltrado pelo FBI para fins investigativos, como uma maneira de desestabilizar o partido. É curioso, nesse aspecto, notar que assim como o personagem calcula cada passo de seus colegas, os seus também são calculados, mostrando que também é vítima da sua própria perseguição – o que o transforma no perfil mais interessante da história, justamente por essa humanização.

Dessa forma, a direção cuidadosa de Shaka King alcança níveis bem realistas e consegue cravar sua crítica devidamente. A recriação dos Estados Unidos na década de 60 preza pelos fatos reais, especialmente pelos confrontos entre Panteras Negras e os suprematistas brancos – basta observar o tratamento que policiais brancos têm com negros, algo que se estende até atualmente. O que se vê, desde os primeiros momentos, é uma tentativa de ultrapassar a simples premissa de biografia – o que, diga-se de passagem, dá muito certo. King realiza enquadramentos bem expressivos, principalmente quando foca nos rostos de seus personagens, demonstrando a ideia nos olhares. Em todo instante, o diretor procura fortalecer seu senso crítico, sem que tudo fuja de seu controle. A fluidez, do início ao fim, é muito bem aproveitada, sem sombra de dúvidas.
Além disso, as atuações roubam a cena e consagram a grande qualidade do filme. Em plena sintonia, Lakeith Stanfield e Daniel Kaluuya brilham em cada segundo e constroem poderosos personagens. Enquanto Stanfield surge explosivo com seu O’Neal, Kaluuya cultiva em Hampton um verniz mais contido, funcionando como perfeitas oposições um ao outro. É interessante a composição do primeiro justamente pela sua gradativa mudança de tom, favorecendo a personalidade dúbia e complexa do personagem. Os dois – criador e criatura – crescem juntos na trama, impressionando com cada lágrima contida, cada grito devastador e cada fala que machuca, tal como Kaluuya e sua hipnotizante presença em cena. Fica difícil desviar os olhos de duas gigantescas performances, cada uma a seu modo, numa narrativa em que os talentos são perfeitamente valorizados.

Nas sequências finais, o assassinato de Fred Hampton resume a síntese crítica que Shaka King deseja na sua trama, repetindo o mesmo destino de outros revolucionários como Martin Luther King Jr. e Malcolm X, figuras importantes na luta pelos direitos da comunidade negra. De uma certa forma, a fala que encabeça a introdução deste texto funciona como premonição para o destino de seu autor, essencialmente quando percebemos que a luta de Hampton ainda se mantém em pé, mesmo depois de anos. O momento, apesar de trágico, representa um símbolo da luta, especialmente quando vemos Deborah (uma inspirada Dominique Fishback) desolada com tamanha covardia contra o seu amor, mas sem perder a sua bravura e sua resistência. Afinal, tudo tem um propósito, segundo a sua concepção – até mesmo as coisas ruins.
Crítico, atemporal e brilhantemente dirigido, “Judas e o Messias Negro” conduz com muita cautela sua narrativa, buscando unir realidade à ficção, sem perder seu senso crítico e, claro, o foco nos conflitos. O cineasta sabe a hora de tornar um grito de resistência do seu texto, sem torna-lo artificial ou “gratuito”. Isso, acima de tudo, mostra que a obra tem comprometimento tanto com a denúncia, quanto com a ideia de entreter – afinal, o que seria do cinema sem esse casamento de propostas? Além disso, é perceptível que o roteiro não deseja demonizar essas duas figuras, mas sim coloca-las na mesma circunstância, demonstrando um olhar amplo sobre esse cenário. As merecidas indicações ao Oscar – incluindo as de Kaluuya e Stanfield – consagram a grandiosidade dessa obra, com certeza.
Vinicius Frota
Apenas um rapaz latino-americano apaixonado por tudo que o mundo da arte - especialmente o cinema - propõe ao seu público.