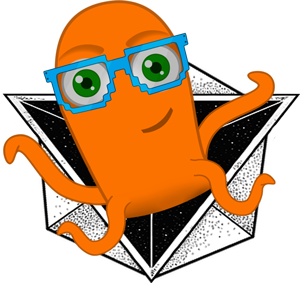Nota
A notícia de que o diretor espanhol Juan Antonio Bayona iria dirigir o segundo capítulo da trilogia Jurassic World (quinto da franquia Jurassic Park) sugeriu, a princípio, que a ideia dos produtores executivos Steven Spielberg e Colin Trevorrow era trazer uma visão minimamente fora da caixa e dos padrões que a produção foi incapaz de largar no filme anterior. O resultado de Jurassic World: Reino Ameaçado, no entanto, só comprova a dificuldade de bons diretores fugirem dos chavões consagrados por roteiros escritos em formato de formulário.
A trama segue linearmente os eventos de onde eles tinham terminado: agora, a ilha Nublar está prestes a ser destruída por um vulcão que irá extinguir todos os dinossauros restantes, o que faz Clair (Bryce Dallas Howard) e Owen (Chris Pratt) unirem forças para resgatar os bichos do lugar. A chegada na ilha, no entanto deixa clara uma conspiração por trás desse resgate. (Tudo o que acontece daí em diante é premeditável somente pelos trailers)

Como nota de esclarecimento: grandes franquias têm seus chavões, batidas e tradições e eles não necessariamente precisam ser quebrados; Star Wars deixou claro com O Despertar da Força, Rogue One e Os Últimos Jedi que é possível manter todos os elementos-base de uma franquia (atmosfera, personagens, design, trama) e ainda assim se sustentar firmemente sozinho, sem dar a impressão para o público de que já se viu aquilo dali, pelo menos, 200 vezes antes. Ou seja, não há problema algum em investir nesses ícones e clichês, desde que isso seja feito com algum senso de frescor.
No caso de Reino Ameaçado, fica injusto acusar J. A. Bayona por falta de tentativa. Realizador de filmes estilosos e vigorosamente emocionais, como o sólido terror de fantasmas O Orfanato, o carregado filme de catástrofe O Impossível e a fantasia dramática tristíssima Sete Minutos Depois da Meia-Noite, Bayona tenta trazer a este Jurassic World um senso de horror antigo que havia se perdido consideravelmente no filme de 2015, preocupado mais em fazer referências do que em trazer aquela tensão característica do “old-Spielberg”. A direção dele consegue trabalhar muito bem as sombras e silhuetas, além de criar alguns planos longos e com troca de eixo em situações bastante inventivas e eficazes na construção do suspense. E, apesar do esforço para criar uma ação frenética e o mais grandiloquente possível, o espanhol não podia deixar de imprimir também a sua competência na manipulação sentimental e o faz aqui de maneira esquemática, mas inegavelmente funcional.

Os esforços de Bayona e dos efeitos visuais (ainda mais impressionantes), infelizmente não conseguem esconder as limitações do roteiro, que se vê forçado a usar não só tudo aquilo que a série já fez antes, mas tudo que os blockbusters das últimas décadas trabalharam com cada vez menos criatividade (o herói bonitão simpático, a conspiração de cientistas e militares malvados, a criação de uma espécie geneticamente modificada e indestrutível, o nerd medroso colocado no meio da situação de perigo para fazer piada, a cena em que os personagens são presos pelo vilão cínico e, inclusive, o uso de “Deus Ex Machina” mais previsível e repetitivo do ano até o momento). Embora o elenco continue funcionando dentro do contexto (em especial Chris Pratt e seu carisma-piloto-automático), nenhum personagem consegue fugir da sensação de “repeteco”, e a trilha sonora é particularmente péssima, genérica e exaustiva.
Ajudaria a acompanhar a energia e inventividade de Bayona se houvesse algum elemento-chave de inspiração na história, mas realmente não há. E fica muito mais triste a sensação de que, dentro das suas perspectivas, o estúdio e os produtores estão no caminho certo – afinal, mudança e inovação são um risco, e riscos não trazem uma bilheteria colossal de 1,6 bilhões de dólares. Saudades, Blade Runner 2049; fracasso de bilheteria, sucesso de qualidade.