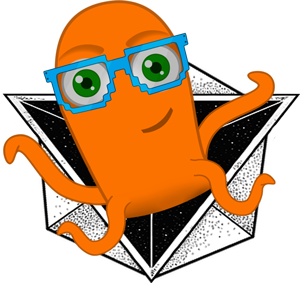Nota
Apesar de David Fincher ter construído seu nome na indústria com alguns dos suspenses psicológicos mais icônicos das últimas décadas – Seven: Os Sete Crimes Capitais (1995), Clube da Luta (1999), Zodíaco (2007), Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres (2011) e Garota Exemplar (2014) – é revelador que seus filmes mais reconhecidos pelas grandes premiações sejam dramas. Primeiro, o diretor recebeu sua primeira indicação ao Oscar de Direção pelo romance fantástico de época, O Curioso Caso de Benjamin Button (2008), e depois com o biográfico A Rede Social (2010) – ambos também reconhecidos em Melhor Filme e vencedores de três estatuetas cada. E agora, com Mank (2020), produção original da Netflix e o primeiro trabalho do diretor em seis anos, é muito provável que esse padrão siga adiante.

O roteiro original foi escrito há muitos anos por Jack Fincher, pai de David, como resultado de suas pesquisas a respeito da figura de Herman J. Mankiewicz (apelidado de Mank), o renomado roteirista estadunidense responsável por um dos clássicos mais importantes da história: Cidadão Kane (1941), de Orson Welles. Fincher (filho) fez algumas adaptações ao texto do seu pai, falecido em 2003, que narra aqui, simultaneamente, o processo da escrita do filme de 1941 e, em flashbacks, os bastidores da relação de Mank com os estúdios e com pessoas marcantes do mundo do cinema dos anos 1930. As eleições da Califórnia também são um ponto crucial de conflito das cenas do passado, servindo não apenas para revelar traços da personalidade forte do protagonista, mas também para demonstrar os reflexos da política na indústria cinematográfica daquela época.
É evidente que o longa – com sua fotografia pomposa em preto e branco, seu diretor e mais ainda pelo seu assunto – já era um candidato certo ao Oscar 2021 antes mesmo de seu lançamento e de as principais avaliações começarem a ser divulgadas. Aliás, só observando oscarizados da última década, já dá pra notar a larga vantagem com que as produções metalinguísticas abrem a corrida, vide O Artista (2011), Birdman (2014), La La Land: Cantando Estações (2016) e Era uma Vez em… Hollywood (2019). Mank, portanto, não deve fugir à regra, sendo expressivo favorito em boa parte das categorias técnicas (especialmente fotografia e desenho de produção) e também nas categorias principais.

O merecimento, porém, é parcial. O deleite aqui está na maneira como Fincher descaradamente brinca com a estética de Cidadão Kane, como uma espécie de reverência moderna; embora faça uso de um aparato incalculável de tecnologia de som e imagem para deixar o filme com essa aparência antiga, o diretor também evidencia a modernidade de seu método, desde o formalismo ultra rigoroso, passando pela habitual agilidade na montagem até o cinismo de seu senso de humor. A câmera transita por aqueles espaços com um inegável deslumbramento fetichista, mas consegue fazer com que a ótima presença dos atores explore esse tom mais encenado (sobretudo a figura de Amanda Seyfried como a atriz Marion Davies que, com seus cabelos loiros e seus olhos grandes, é uma força magnética que escancara esse lado deliberadamente artificial do filme).
A atenção obsessiva às particularidades internas daquele universo e daquelas personalidades, entretanto, deixa Mank narrativamente um tanto burocrático; mesmo com o conhecimento prévio do contexto político e da era clássica do cinema, é difícil para o espectador sentir-se conduzido para dentro daqueles ambiente e menos ainda para dentro dos personagens. Ainda que Herman Mankiewicz seja um personagem fascinante a uma primeira vista, e seja interpretado por Gary Oldman com a convicção de sempre, o filme não concilia bem o seu lado mais humano e sentimental do seu sarcasmo contumaz.

Fica claro que Mank carece também de uma certa tração, um elemento de urgência dramática que ligue as duas linhas de tempo de forma mais engajante. Momentos isolados constantemente pedem para o espectador se manter mais atento (a cena da redução de salários, o momento das eleições, o jantar no terceiro ato), mas outros parecem ou dispersos da trama principal ou apenas desinteressantes. Mas nada faz mais falta no filme do que a presença de Orson Welles, interpretado em pouquíssimas cenas pelo ótimo Tom Burke; as divergências criativas entre o então diretor prodígio de 24 anos e seu roteiristas são mencionadas quase que de passagem pelo longa e culminam num confronto final que teria rendido muito mais impacto se o filme o tivesse desenvolvido mais até ali.
Quando parece mais inspirado, Fincher é capaz de fazer você embarcar numa sequência inteira simplesmente pelo modo como posiciona os personagens em relação uns aos outros. E aqui, auxiliado pelo diretor de fotografia Erik Messerschmidt (que trabalhou com ele na extraordinária série Mindhunter, 2017-2019), o diretor cria composições plásticas tão vistosas que sempre há algo de muito interessante para se olhar. Virtuosismo formal e bons momentos, portanto, sobram em Mank. Mas o brilhantismo, envolvimento e impacto habitual, infelizmente, ficaram um pouco de fora.