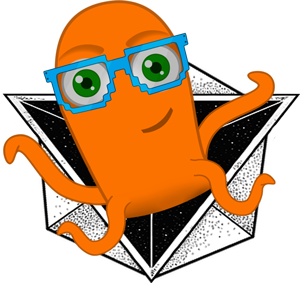Nota
Toda a introdução de Maria e João: O Conto das Bruxas propõe uma fantasia de horror até bastante clássica.
Através de uma narração em off, a abertura expõe a lenda com algumas reformulações pontuais, mas de maneira a invocar o tom tradicional da história.

A própria apresentação dos protagonistas do conto, que dão nome ao filme, é feita de maneira protocolar: Maria, uma jovem adolescente, e seu irmão pequeno, João, são expulsos de casa pela mãe e partem famintos pela floresta rumo ao desconhecido. Os dois passam fome durante um período longo até encontrarem uma misteriosa casa habitada por uma senhora estranhíssima, que lhes oferece abrigo e comida, muita comida.
Ao mesmo tempo que estica a parte já conhecida do conto dos Irmãos Grimm, pelo menos durante a primeira metade, o filme do diretor Oz Perkins também lida desde cedo com uma sensação de estranheza que vai desde a familiaridade da história até a proposta visual. Por um lado, o clima sombrio é tão o que se espera de uma floresta noturna, as aparições são tão o que se imagina ver por detrás das árvores, a casa “mal assombrada” tem tanto tal aparência e a bruxa em questão não poderia ser confundida com mais nada. Não há uma tentativa de revisionismo, como se convencionou fazer nas últimas décadas, e, sim, um passo a passo da tradição. Em contrapartida, a fotografia de Galo Olivares, em uma grande-angular que muitas vezes se assemelha a uma GoPro, dá uma personalidade onírica até anacrônica. É como se tudo estivesse parecendo certo demais, familiar demais, simples demais na estrutura dramática, e a composição das imagens, não obstante, sugerissem outra coisa.

A própria lógica do conto segue essa ideia de que algo está errado justamente em ser tudo tão linear – e é interessante como direção e roteiro, aqui, agem em uma espécie de divergência paralela: conversam, mas discordam. O que poderia criar uma dissonância narrativa, na realidade, acaba contribuindo de forma gradativa para que, quando Maria e João comece a expôr suas cartas na mesa, não haja nem o fator surpresa nem a previsibilidade. As ferramentas na criação da atmosfera são criativas o suficiente em seu imaginário para fazer o espectador desenvolver teorias, mesmo que nem tudo chegue a uma resposta concreta.
É ótimo, neste caso, que a atenção maior do roteiro seja dada à Maria, interpretada por Sophia Lillis, já que a jornada essencial do filme – e o ponto disruptivo e atual em que ele quer chegar – é, de fato, sua auto descoberta nesse mundo inóspito. É uma curvatura que se assemelha ao influente A Bruxa (2016), e, apesar de os dois filmes trabalharem uma iconografia semelhante, Maria e João se permite o bizarro com menos requinte. Aliás, nem precisava de nada mais do que os olhares e o sorriso macabro de Alice Kridge, que já interpretou uma vilã antológica na adaptação de game Terror em Silent Hill (2006), e traz de volta sua presença magnetizante e deliciosamente caricata.

Acaba se tornando um problema, no entanto, que o filme desenvolva tanto clima para um terceiro ato tão apressado, em que tanto os componentes do horror se desconstroem de forma abrupta como se não existe peso o suficiente para a criação de catarse. Com toda a timidez na hora de abraçar um impacto mais visceral, A Bruxa tinha simultaneamente uma morbidez sombria e uma força simbólica muito prazerosa no seu ápice minimalista. Aqui, talvez uma amarração maior nas elipses e uma entrega mais aberta ao terror no ato final estivessem a favor do (ainda satisfatório) resultado final.