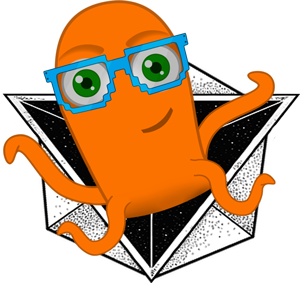Nota
Entre todos os muitos elementos conjurados na construção cenográfica de O Farol estão presentes uma série de objetos fálicos – de todos os tamanhos e proporções. A representação em si varia, passando por desejos reprimidos, dinâmicas de abuso de poder e até criaturas místicas. São ingredientes batidos em um turbilhão sensorial dos mais desconcertantes do ano. Mais do que as escolhas temáticas em si, o que intriga no trabalho escrito e dirigido por Robert Eggers é a inconsequência histriônica com a qual o cineasta lida com essas vertentes.

Conquistando grande prestígio com a crítica – e grande divisão com o público – em seu longa de estreia, A Bruxa (2016), o cineasta americano de 36 anos retorna ao posto de aclamação com esta história sombria passada na Inglaterra do século XIX. Dois faroleiros, um comandante (Willem Dafoe) e um encarregado (Robert Pattinson), ficam presos numa ilha rochosa cuidando de um farol antigo durante uma tempestade. O que, a princípio, pode dar a impressão de ser apenas uma situação insalubre e desconfortável vai se revelando uma espiral alucinante de insanidade. Um dado fundamental é que apenas o comandante Thomas tem acesso à luz do farol, gerando desde cedo curiosidade no seu subalterno (através de quem o ponto de vista do filme é narrado) e uma intriga que algumas visões estranhíssimas só fazem aumentar.
A escolha de filmar em preto e branco, com razão de aspecto 1.19:1, confere uma classe prévia que poderia ser comprometida por um projeto meramente fetichista e inanimado. O resultado, do contrário, impressiona fortemente. Não exatamente porque o filme – como se tem comentado muito na imprensa internacional – parece ter sido rodado durante o ciclo dos monstros da Universal; embora Eggers saiba emular com perfeição muita coisa desse período e trabalhe brilhantemente com uma atmosfera à moda antiga, muitos de seus aspectos textuais e audiovisuais denunciam sua temporalidade pós-moderna e sua inclinação sarcástica.

Os diálogos têm jargões apropriadamente antigos, mas sempre deixam escapar um traço muito curioso de cinismo (“Você parece até uma paródia”, “aquela velha história que todos eles contam”). A fotografia está em constante transformação na sua relação com o espaço, cheia de travellings inventivos, planos-detalhe agudos e giros surtados de câmera. São fatores disruptivos que preservam esse rigor técnico ultra evidenciado, mas nunca se fixam a ele de maneira confortável. A riqueza na execução de O Farol não está necessariamente em seus apetrechos analógicos ou em suas intenções classudas, mas na conciliação entre essa austeridade técnica e suas aplicações diretas na história.
Trocando em miúdos, o diretor não apenas transpõe o estilo visual dos seus clássicos favoritos; ele os reconfigura em prol de sua linguagem particular. Pattinson e Dafoe são a representação máxima dessa maleabilidade, já que o foco de O Farol é em criar uma aparência de tensão ascendente na relação dos dois para, muito cedo, quebrar qualquer expectativa de roteiro seguro – tanto faz uma discussão dos personagens terminar em dança e bebedeira como em indescritíveis bizarrices.

A preocupação com os monólogos e com a imprevisibilidade desse duelo inevitavelmente tornam o segundo e o terceiro ato um tanto misturados, podendo causar a sensação de que a duração é mais extensa do que é, de fato. É um clímax despreocupado com a gradação da tensão e, ao invés disso, aposta numa histeria que flerta adequadamente com todos os componentes visuais e narrativos ao mesmo tempo. Uma experimentação, ao final, um bocado estranha e aparentemente desregrada, mas profundamente planejada e rigorosa a seu modo.