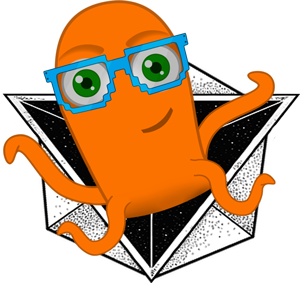Nota
Um filme sobre perdas, luto, análise comportamental, laços e, acima de tudo, sentidos. Desde os momentos iniciais, quando um menino confidencia ao seu psiquiatra – “eu vejo gente morta o tempo todo”, expressão célebre no cinema – sobre sua mente, o roteiro já deixa claro o norte pelo qual segue “O Sexto Sentido” (1999). Aqui, acompanhamos a saga de Cole Sear, um garoto introspectivo, fragilizado por aparições que o perturbam no cotidiano. Sua mãe, Lynn, o superprotege na mesma proporção que não entende o seu comportamento. Do outro lado, vemos Malcolm Crowe, especialista que, gradativamente, tenta destrinchar a personalidade do menino e o que há por trás disso tudo. Nesse contexto, M. Night Shyamalan faz questão de trazer uma espécie de norte para esses personagens e coloca-los numa redoma em que tudo é observado, principalmente o comportamento.

Aos poucos, a fragilidade de Cole fica ainda mais exposta e, portanto, sua relação com as pessoas. Afinal, como lidar com o sobrenatural quando não se acredita nisso? Como entender que uma criança já está vulnerável a esse tipo de poder? O roteiro, calcado em símbolos, não hesita em usar o garoto como objeto de estudo, tal qual a presença significante do psiquiatra nesse processo. Nesse aspecto, é perceptível que existe ali uma identificação entre médico e paciente, sobretudo pelo fato de que Malcolm possui pendências não resolvidas do passado. Um parece ser o reflexo do outro. Há ali uma relação construída de pai e filho que preza pela cumplicidade e o entendimento. Mesmo que Lynn tente entender o que se passa com o filho, ela não consegue por não saber lidar totalmente com isso – o que se torna seu maior tormento enquanto mãe. A narrativa escancara que cada um dessas figuras carrega uma dor, independentemente do motivo ou da origem.
“- A vovó me disse que você foi onde ela tá enterrada e fez uma pergunta. Ela falou que a resposta é “todos os dias”. O que você perguntou para a vovó?
– Se ela sentia orgulho de mim.”
O trecho do diálogo acima, carregado de um tom melancólico, é a síntese da relação entre esses dois personagens. Lynn, até então cética com a revelação sobrenatural do filho, desaba a partir do momento em que lembra da mãe e do quão sua perda ainda a deixa vulnerável. Por alguns segundos, o escudo de força da personagem cai e uma explosão de sentimentos entra em cena, permitindo que ela compreenda o motivo do comportamento de Cole. O trecho, ainda que simples, traz consigo uma força tão inexplicável que se agiganta pela mensagem tocante que carrega, ao mesmo tempo que ressignifica o laço entre mãe e filho. É a noção de que Lynn só aumenta o entendimento diante de Cole. Para mim, a sequência mais impactante e linda da narrativa.

Quanto ao elenco, é difícil não o enaltecer. Tão pequeno e com talento de gente grande, Haley Joel Osment tem em mãos uma criança complexa e um trabalho extremamente sensível. Talentoso, o garoto constrói mecanismos que favorecem a complexidade de Cole em cena, principalmente nos momentos de agonia. Indicado merecidamente ao Oscar de Melhor Ator Coadjuvante, Osment não surge caricato e o resultado é muito bem aproveitado. O mesmo vale para Toni Collette, também nomeada ao maior prêmio da indústria. Apesar do pouco espaço em tela, a intérprete de Lynn sabe sustentar o comportamento superprotetor e silencioso da personagem, oferecendo diversos sentimentos. Talvez Lynn seja a figura mais realista ali, e isso é graças não só ao roteiro, mas à entrega singela de Collette na história. Além dos dois, Bruce Willis, acostumado com perfis durões dos anos 80/90, tem um tipo contido cuja sensibilidade é visível em cena. Talvez no seu melhor momento da carreira, Willis constrói um Malcolm com articulação única e o consagra especialmente no fim. Um trio em estado de graça.
A direção de Shyamalan é bastante desenvolta e consegue captar cada detalhe da obra e as inúmeras sensações. São planos que, na mesma medida que amedrontam (por exemplo, a cena em que Cole revela ao psiquiatra que vê “gente morta o tempo todo” é tensa e sombria, cujo momento surge através de uma câmera que só capta o rosto apavorado do menino coberto pelo lençol), encantam. Há ali um fascínio e uma beleza até na morte, sob enquadramentos que apequenam e agigantam os cenários, como os vitrais da igreja. Assim como não existe uma ideia apelativa no roteiro, também não há apelação na ótica de Shyamalan. A fotografia fascinante e a quase ausência de trilha sonora também são a peça-chave da qualidade técnica impecável da trama.

No fim de tudo, a impactante reviravolta. Ainda que os sinais sejam vistos antes, o roteiro consegue surpreender com a sua finalização. Repare que, no momento da revelação, é possível perceber que essa resposta está em todo detalhe do filme, ainda assim a reviravolta é ousada e condizente com a proposta brilhante do filme, e em nada diminui a qualidade impecável. A cena é silenciosa e muito bem articulada, surgindo como uma espécie de metáfora que permite que o espectador entenda melhor o motivo pelo qual os personagens parecem reflexo um do outro. A sequência é poética e primorosa e sabe perfeitamente se encaixar como o fim que essa obra-prima merece. Um roteiro, sem dúvidas, fantástico naquilo que propõe.
O Sexto Sentido é muito mais do que um simples suspense do Supercine, é uma obra que fala de morte e vida como poucas conseguem fazer, até mesmo nos mínimos detalhes e quando não tem intenção. É um filme que se agiganta a cada momento, independentemente da relevância da situação. O longa é, com a absoluta certeza, o cinema enigmático de M. Night Shyamalan no seu estado puro, cativando, emocionando e até assustando naquilo que propõe e além também. Uma obra-prima.
Vinicius Frota
Apenas um rapaz latino-americano apaixonado por tudo que o mundo da arte - especialmente o cinema - propõe ao seu público.