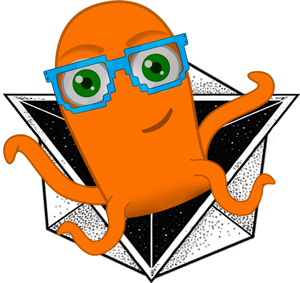Nota
Por vezes, filmes biográficos assumem diversas roupagens nas suas conduções. Há, por exemplo, quem prefira ser fiel à realidade, enquanto outros alimentam o livre arbítrio na interpretação dos fatos. Diante dessas alternativas, o cineasta Aaron Sorkins decide, entre altos e baixos, caminhar pelos dois lados no longa “Os Sete de Chicago” (2020), baseado no julgamento de um grupo de ativistas em meio à Guerra do Vietnã.

Desde o princípio, conseguimos captar o rumo crítico pelo qual segue a narrativa biográfica, através dos preparativos na convenção do Partido Democrata para um protesto. Aqui, já conhecemos imediatamente os sete protagonistas da trama e seus fortes posicionamentos perante a sociedade, como o radicalismo do advogado Abbie Hoffmann e o pacifismo do escritor David Dellinger. São interessantes, nesse contexto, as diferenças de posições que o roteiro emprega, justamente para a criação de um confronto interno no grupo. Ao passo que alguns pregam a manifestação não violenta, outros cravam a violência como único meio para que suas vozes sejam ouvidas, principalmente num cenário em que os dois tipos de manifesto são reprimidos fortemente.
Dito isso, tal discrepância de ideias é justamente usada como argumento no tribunal contra os sete réus. Richard Schultz, o promotor do caso, usa a justificativa de que, independentemente das posturas divergentes, o grupo é extremista nos dois lados, como se tudo tivesse o mesmo peso na balança. Mesmo que a premissa seja boa, há uma pequena ruptura na articulação, exatamente por tornar rasa essa posição da promotoria, criando mais uma discórdia entre os julgados do que união contra o sistema – além dos diálogos que pouco contribuem nessa situação. À medida que os radicais e os pacifistas divergem entre si, a voz de Bobby Seale, líder do Partido dos Panteras Negras, ecoa mais do que seus companheiros, especialmente enquanto homem negro num ambiente majoritariamente branco.

Nesse cenário, é visível que, ainda que a acusação coloque o grupo inteiro no mesmo patamar extremista, o tratamento que Seale recebe é diferente pela sua cor da pele. Afinal, quando pensamos nos Estados Unidos da década de 60, lembramos da impiedosa segregação racial vigente à época e todos os seus absurdos. A abordagem racista do juiz com Seale é notável, como se ele fosse “pior” do que os outros “piores” ali pela sua etnia. Entretanto, o viés que Sorkins propõe nesse desenvolvimento é um pouco problemático, por usar a noção de “branco salvador” como interferência no racismo que o ativista negro sofre naquele local. A impressão que fica é que o líder dos Panteras Negras precisa da defesa dos colegas brancos para que se estabeleça um julgamento igualitário ali e isso prejudica o tom crítico que o filme almeja, como se a voz de Bobby fosse menor do que a de seus companheiros – não só sob a ótica dos inquisidores racistas, mas do próprio grupo também.
De modo estrutural, a obra não oferece grandes surpresas, nem subjetividades. Em todo momento, o roteiro preza pelo teor objetivo, essencialmente no texto dito pelos personagens. Afinal, uma biografia valoriza a coesão dos fatos – vide a posição de Tom Hayden, o líder do grupo, nesse ponto. Apesar do filme ter suas problemáticas no desenvolvimento, o jogo de câmera bem conduzido por Aaron Sorkins chama a atenção em certos trechos, especialmente o foco nas reações dos julgados. O diretor consegue captar a tensão própria de um tribunal e a alimenta com um tom ríspido, tentando trazer aquele cenário para fora das telas – a construção fidedigna dos cenários, por exemplo, enriquece essa ótica. Ainda que tenha tropeços, a obra garante sua atemporalidade na discussão desses temas, graças à direção de Sorkins, sem dúvidas.

Sobre o elenco, é curioso analisar que todos os atores envolvidos têm o seu devido espaço, independentemente da relevância. Sacha Baron Cohen está ótimo como o radical Abbie, enquanto Jeremy Strong e John Carroll Lynch fazem de Jerry Rubin e o pacífico Dellinger presenças significativas na trama, com boas atuações, e protagonizam excelentes momentos. Interessante observar, ainda, um Eddie Redmayne menos caricato do que o costume – vide “A Teoria de Tudo” – e com uma performance sóbria, sem muitos problemas, além de um ótimo Mark Rylance em cena. Entretanto, o maior nome da obra fica a cargo de Yahya Abdul-Mateen II. Intérprete de Bobby Seale, o ator da série “Watchmen” sabe construir perfeitamente as camadas do seu rico personagem, e até quando não é valorizado pelo roteiro, sustenta como pode toda essa construção e se consagra como o melhor ator da obra. Um grupo em plena sintonia, com certeza.
Cumprindo sua ideia de mesclar fatos reais com a ficção, “Os Sete de Chicago” termina com um saldo positivo, entre erros e acertos. É uma história forte que merece mais aprofundamento, mas isso não significa que não tenha um tom profundo em certos momentos. É uma obra sem rodeios, com o objetivo de denunciar e, sobretudo, enfatizar o quão atemporal consegue ser. Afinal, o ativismo e suas barreiras sempre vão existir enquanto o sistema persistir. Vale a pena conferir essa obra.
Vinicius Frota
Apenas um rapaz latino-americano apaixonado por tudo que o mundo da arte - especialmente o cinema - propõe ao seu público.