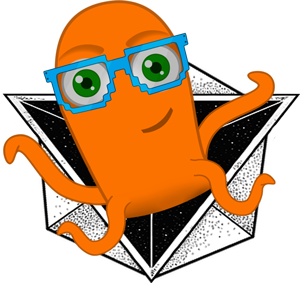Nota
Há filmes que prometem nos assombrar, mas acabam por nos deixar mais intrigados com suas escolhas narrativas do que verdadeiramente aterrorizados. Este é o caso da mais recente incursão de um cineasta aclamado no universo do terror — uma experiência que, embora carregada de uma proposta extremamente interessante, tropeça na execução, deixando o público à espera de sustos que nunca chegam. O filme se vende como um terror em primeira pessoa, mas, na prática, revela-se um drama familiar disfarçado, onde os conflitos humanos ofuscam qualquer tentativa de sobrenatural genuíno.

A premissa de Presença é, sem dúvida, interessante: acompanhamos uma família que se muda para uma casa antiga, apenas para descobrir que não estão sozinhos. A grande sacada do filme é a perspectiva única — tudo é filmado do ponto de vista do “espírito” que habita o local. Essa escolha visual, que poderia ser revolucionária, acaba se tornando um desafio duplo: para o espectador, que precisa se acostumar com movimentos de câmera muitas vezes desorientados, e para a narrativa, que falha em equilibrar o voyeurismo sobrenatural com a tensão necessária para sustentar um filme de terror. Em vez de sustos bem construídos, temos longos momentos de observação passiva, como se o espectador fosse um fantasma entediado, testemunhando discussões familiares que, embora bem atuadas, não justificam a promessa inicial de medo.
Os personagens, por outro lado, são o aspecto mais forte da obra. A família em crise — uma mãe com segredos financeiros, um pai desesperado para manter o controle, uma filha adolescente traumatizada pela morte de uma amiga e um filho atleta sob pressão — é retratada com nuances que salvam o filme da completa irrelevância. Lucy Liu e Chris Sullivan entregam performances sólidas, mas é Callina Liang, como a jovem Chloe, quem rouba a cena, trazendo uma profundidade emocional que contrasta com a superficialidade do elemento sobrenatural. O problema é que, em um filme que se anuncia como terror, o drama humano acaba sendo tão dominante que os momentos supostamente assustadores parecem meros interlúdios desconexos.

A direção de fotografia e os planos sequência são tecnicamente impressionantes, mas também revelam uma das maiores falhas do filme: a falta de identidade. Em certos momentos, parece que o cineasta não decidiu se queria fazer um estudo psicológico sobre o luto e a culpa ou um thriller paranormal. O resultado é uma obra que oscila entre os dois gêneros sem se aprofundar em nenhum. A casa, que deveria ser um personagem por si só, é pouco explorada visualmente, e os poucos efeitos práticos — como móveis que se movem ou portas que batem — são tão esparsos que mais parecem acidentes de roteiro do que elementos de terror intencionais.
Outro ponto frustrante é a subutilização de conceitos promissores. A ideia de um espectro que observa e interage com os vivos poderia render cenas memoráveis, mas o filme se contenta com sugestões vagas e um clímax que, embora bem estruturado, chega tarde demais para compensar a lentidão do primeiro e segundo atos. O final, embora surpreendente, soa como um remendo para justificar as escolhas narrativas anteriores, em vez de um desfecho orgânico. É como se o filme, cansado de sua própria indecisão, resolvesse finalmente revelar suas cartas — mas, nesse ponto, muitos espectadores já terão perdido o interesse.
A trilha sonora, quase inexistente em momentos cruciais, também contribui para a atmosfera morna. Em vez de recorrer a jump scares ou composições arrepiantes, o filme opta pelo silêncio ou por ruídos ambientes, o que poderia funcionar em uma narrativa mais minimalista, mas aqui apenas reforça a sensação de que algo está faltando. Quando a música finalmente aparece, é tão discreta que mal se nota, perdendo a oportunidade de elevar as poucas cenas de tensão.

Em suma, este é um daqueles casos em que a ambição criativa supera a execução. A proposta de um terror em primeira pessoa é fascinante no papel, mas, na prática, o filme se arrasta em um drama familiar que, embora bem interpretado, não justifica sua classificação como horror. Talvez, se a direção tivesse investido em um tom mais sombrio ou em sequências verdadeiramente assustadoras, o resultado fosse diferente. Mas, como está, a experiência é como visitar uma casa supostamente mal-assombrada e descobrir que os únicos fantasmas são as expectativas não atendidas do público.
No final, o que fica não é o medo, mas a pergunta: será que o filme teria funcionado melhor se abraçasse de vez seu lado dramático, abandonando de vez as pretensões de terror? A resposta, assim como o espectro da narrativa, permanece pairando no ar — invisível, inalcançável e, no fim das contas, irrelevante.
Victor Freitas
Pernambucano, jogador de RPG, pesquisador nas áreas de gênero, diversidade e bioética, comentarista no X, fã incontestável de Junji Ito e Naoki Urasawa. Ah, também sou advogado e me arrisco como crítico nas horas vagas.