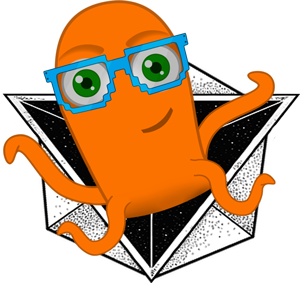Nota
A consistência e a solidez da filmografia do cineasta norte-americano Paul Thomas Anderson (PTA) não são novidade para ninguém: Magnólia e Sangue Negro, por exemplo, já foram incorporados no menu da cinefilia pelo seu impacto e influência, enquanto O Mestre e Vício Inerente estão na lista dos cult de sabor mais indefinido e não são unanimidade. Trama Fantasma representa uma posição diferenciada dentro da obra do diretor – no melhor dos sentidos.
A história é ambientada nos anos 1950, na Inglaterra, onde o estilista consagrado e cortejado Reynolds Woodcock vive em uma luxuosa casa com sua irmã e muitas, muitas, muitas costureiras e modelos ao seu redor. Dono de hábitos detalhados e inflexíveis em sua rotina meticulosa, Reynolds é um homem autoritário, extremamente antipático, porém brilhante e também difícil de decifrar. Um dia ele conhece Alma, uma garçonete com sotaque estrangeiro e de modos desajeitados que acabam despertando interesse no estilista, que a convida para morar com ele.

Não convém avançar mais em detalhes sobre o enredo porque um dos maiores prazeres de Trama Fantasma é o desafio de desvendar a camada tóxica e subversiva da história – afinal, um drama romântico de época passado na Inglaterra sobre moda não parece, a princípio, tipo de contexto para uma narrativa intrincada. É bem verdade que custa um tempo considerável até que o tal elemento subversivo apareça, mas dois fatores impedem que isso se torne um problema: em primeiro lugar, as cartas nunca são totalmente reveladas (todas as motivações e personalidades são um constante quebra-cabeça); e em segundo, o virtuosismo técnico de PTA desafia o cinéfilo a prestar atenção aos mínimos detalhes da linguagem visual e do inteligentíssimo trabalho de cenografia. Trama Fantasma é um caso raro de uma produção de prestígio sem um diretor de fotografia (PTA declarou que foi um trabalho conjunto), e calha de ser um dos filmes visualmente mais inspirados do ano: os planos-detalhe nos vestidos, a movimentação cirúrgica de câmera pelo cenário, as tremidas propositais explicitando o desconforto dos personagens e a criação constante de suspense através até mesmo de planos estáticos – acompanhados pela exuberante e atmosférica trilha de Jonny Greenwood. E toda essa técnica impecável poderia servir de puro recurso estilístico se o roteiro não fosse igualmente cheio de camadas.

Daniel Day-Lewis, aqui em seu último papel antes de se aposentar, entrega uma das interpretações mais cheias de nuances e desvãos emocionais de sua carreira (se é que isso é possível), e consegue humanizar Reynolds da maneira mais imprevisível que se pode imaginar para um personagem que se apresenta de maneira tão forte e distante. Vicky Krieps é digna de aplausos simplesmente por não ter desaparecido na presença de um gigante como Day-Lewis e, assim como o parceiro, consegue impor uma personalidade complexa a uma personagem aparentemente fácil. Completando o elenco, Lesley Manville faz da irmã de Reynolds uma presença extremamente significativa para compor esse estranhíssimo cenário e é dona de um dos olhares mais penetrantes do cinema americano dos últimos meses.
Uma técnica impecável e um elenco soberbo, assim, dão vida a um filme riquíssimo em detalhes visuais e temáticos, que vão de complexo de Édipo até relações mais esquisitas de poder, vaidade, controle e dependência. Não é para todo mundo, mas nenhuma obra-prima é.